Enquanto divulgo pelo país meus livros Falsolatria e O anonimato dos afetos escondidos e escrevo um novo trabalho sobre a relação de gays e pessoas trans com as “divas”, deparei-me com uma leitura que se impôs como exigência ética e intelectual: Ninfa morta: uma história do ódio às mulheres, de Márcia Tiburi. Eu sabia que não poderia seguir escrevendo sem passar por esse livro. Não estava errado.
O núcleo mais perturbador — e mais esclarecedor — da obra está na afirmação de que o patriarcado antecede o capitalismo. Não se trata de um detalhe histórico, mas de uma chave interpretativa decisiva. O patriarcado aparece como uma matriz simbólica arcaica, anterior às formas modernas de exploração econômica, que atravessa regimes históricos diversos e expulsa de si, num gozo sádico, as figuras do ódio que organizam a vida social: a misoginia, a homolesbotransfobia, o racismo e o capacitismo. O capitalismo não cria esses males; ele os herda, os reorganiza e os transforma em método.
Essa economia do ódio — simultaneamente simbólica, política e libidinal — permite compreender por que o feminicídio não é um acidente nem um excesso. Ele funciona como tecnologia social. Um dispositivo de morte que regula corpos, desejos e territórios, sustentado por séculos de discursos filosóficos, jurídicos, literários e religiosos que naturalizaram a dominação masculina e converteram as mulheres em alvos estruturais da violência.
Corajosa e erudita, Tiburi não faz concessões à anti-intelectualidade nem à burrice motivada que hoje circula com desenvoltura tanto entre esquerdo-machos ilustrados quanto em certos setores do feminismo e do movimento LGBTQ. O livro confronta diretamente a cultura do clichê, da opinião automática e da indignação performática — esse ruído incessante que substitui o pensamento e, não raro, reforça o próprio patriarcado que afirma combater.
Ao criar conceitos como “ginecropolítica”, “uterocentrismo” e “nomotopologia”, Tiburi não busca ornamentação teórica. Busca precisão cirúrgica. Nomear, aqui, é intervir. É revelar como os corpos das mulheres são politicamente administrados, espacializados, reduzidos a funções reprodutivas e mantidos sob a ameaça constante da violência e da morte — física, simbólica ou subjetiva.
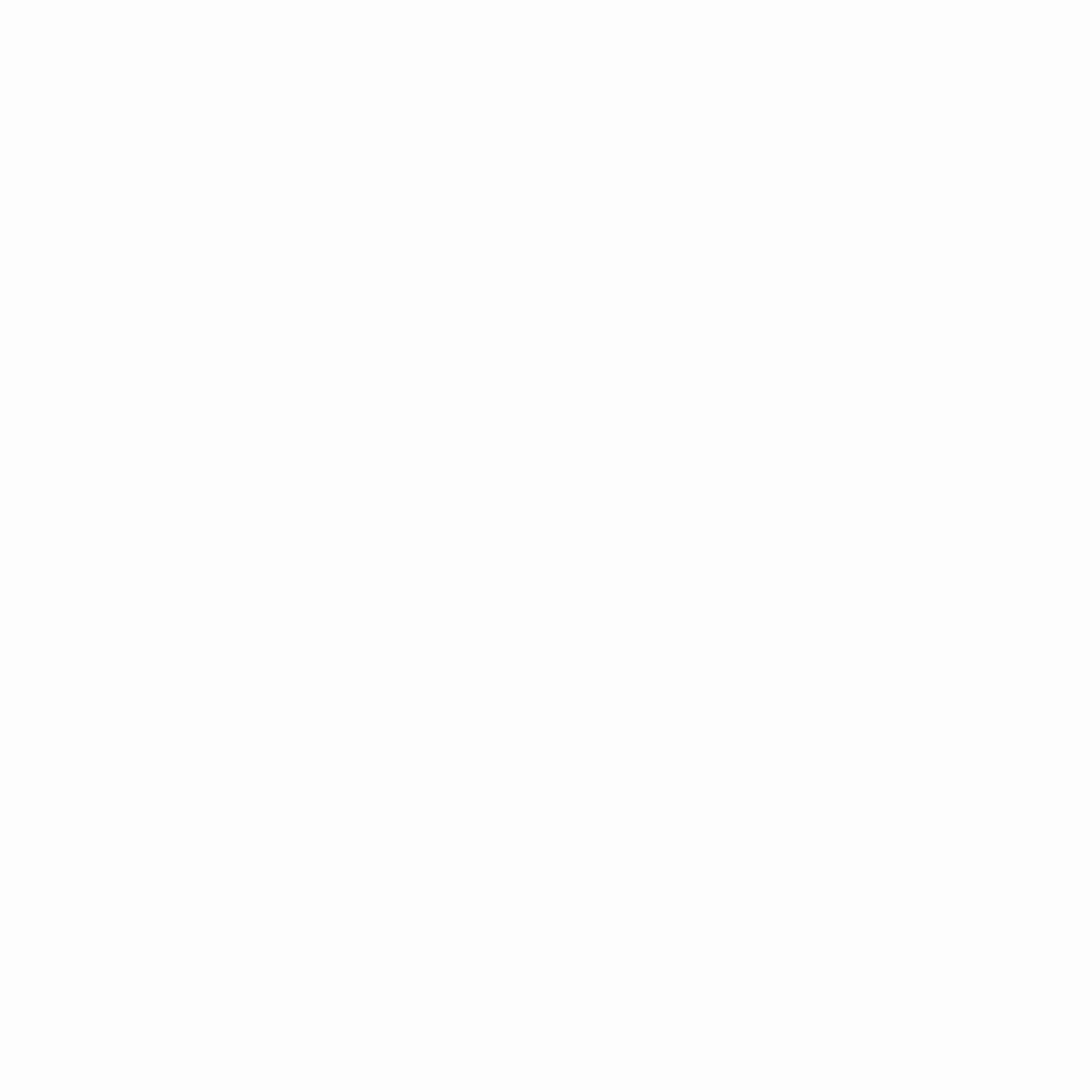
Quando afirmo que Ninfa morta demole o patriarcado, isso inclui sua crítica frontal ao cânone filosófico e literário ocidental. Tiburi mostra como filósofos e escritores — mesmo os considerados geniais — participaram ativamente da construção daquilo que Pierre Bourdieu chamou de “dominação masculina”. Talvez outra história da subjetividade tivesse sido possível se Freud tivesse escolhido Antígona, e não Édipo, como mito fundador da psicanálise. A escolha do mito não foi neutra; foi uma tomada de posição política a favor da lei do pai.
Há, portanto, uma coerência profunda entre a filósofa e a romancista. Ninfa morta dialoga diretamente com Com os sapatos aniquilados, Helena avança na neve, romance injustamente ignorado, demonstrando que o trânsito entre ensaio e ficção não produz incoerência, mas densidade. Pensar, aqui, é também imaginar — e vice-versa.
Há ainda um efeito pessoal incontornável. Na leitura de Diadorim proposta por Tiburi, encontrei a chave para um nó antigo: por que a cena do corpo morto e desnudo de Diadorim, na série de Walter Avancini, permaneceu em mim por décadas como uma tristeza de pedra. Ninfa morta não apenas explica o ódio às mulheres; ela mostra como esse ódio nos constitui, nos atravessa e nos fere — inclusive quando acreditamos estar fora de seu alcance.
Só grandes filósofas conseguem isso: deslocar o regime do pensamento. Ninfa morta não é apenas um livro necessário. É um acontecimento intelectual e político.
* Jean Wyllys é jornalista, escritor e artista visual. Autor de Falsolatria (Editora Nós e Edições Sesc São Paulo, 2024) e O anonimato dos afetos escondidos (Tusquet Editores, 2025).


