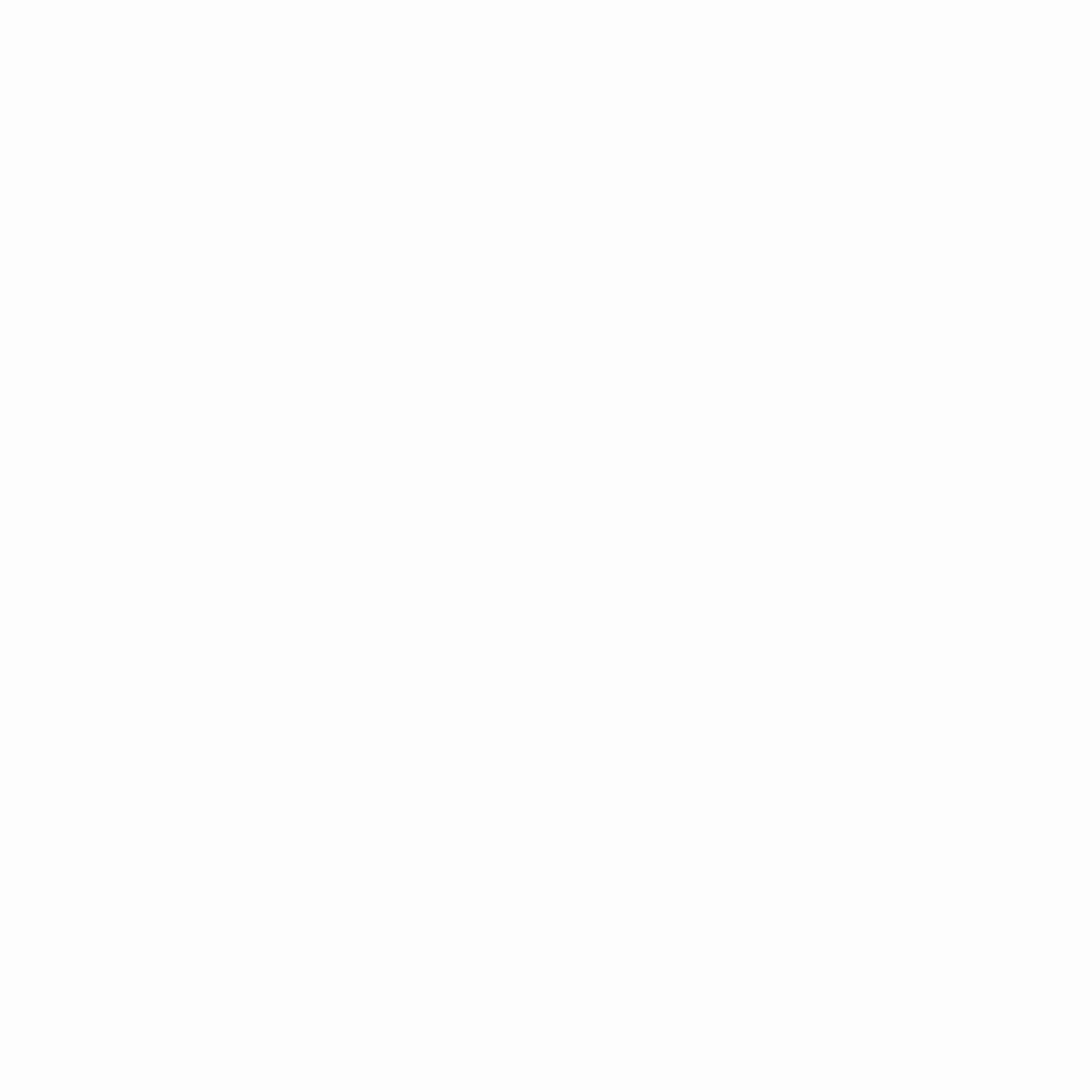Por Lenine Guevara e João Paulo Mehl
A estética do protesto nunca foi neutra. Ela sempre organizou afetos, disputou sentidos e revelou limites.
No texto que escrevemos meses atrás, afirmamos que o imaginário da rebeldia está em disputa e que a extrema direita havia raptado a pauta antissistema, retirando o sistema financeiro e as oligarquias rurais dessa conta e reposicionando o “sistema” como o próprio Estado brasileiro. Hoje, essa afirmação retorna com urgência, diante dos atos e mobilizações recentes e do modo como diferentes cidades expressaram — estética e politicamente — o enfrentamento nas ruas que se voltam ao Congresso Nacional, a exemplo dos atos protagonizados por artistas e produtores musicais.
À medida que se aproximam três anos da invasão da Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, observamos uma mudança no foco das mobilizações. Não apenas fomentadas pelos Poderes Executivo e Judiciário — após um ciclo marcado pela desidratação dessas esferas —, mas agora incluindo de forma central as casas legislativas. Diante de pautas antipovo que ocuparam o centro das preocupações nos últimos tempos, a população se mobilizou para garantir que a reparação inédita no país, no que tange aos crimes de golpe de Estado, seja mantida, e para barrar a blindagem do Poder Legislativo.
Tomando como referência o ato de 14 de dezembro, denominado Ato Musical 2: O Retorno, é possível observar a continuidade desse cerco popular à proteção de crimes cometidos no exercício do poder. Ao mesmo tempo, chama atenção a estética do protesto, que reverberou nacionalmente e incomodou a extrema direita.
No Rio de Janeiro e em Fortaleza, por exemplo, atos atravessados pela música, pela presença de artistas e por uma linguagem híbrida entre manifestação e celebração produziram um tipo específico de engajamento. Um protesto que canta, dança e convoca pelo corpo. Em São Paulo e Curitiba, reafirmou-se a estética sindical clássica: carro de som, palavra de ordem, centralidade da fala organizada e do tempo controlado da política.
Não se trata de julgar o certo ou o errado. Trata-se de provocar. Porque a estética também é uma tecnologia política. Ela pode ampliar o espectro de quem participa — ou restringi-lo. Pode movimentar os sentidos — ou falar apenas para quem já está convencido.
O modelo sindical tem história, densidade e legitimidade. Foi essencial na conquista de direitos e na resistência democrática. Mas, isolado, já não dá conta da complexidade do presente: juventudes fragmentadas, trabalho precarizado, crise climática, cultura digital e subjetividades em disputa permanente. O risco não está na tradição, mas na sua sedimentação.
Não é por acaso que a mobilização estética dos palcos montados a partir do chamado do cantor Caetano Veloso, em articulação com o 342Artes e a Mídia Ninja, tenha investido em um design que combina as cores da bandeira nacional com o preto e branco, como se observa no material oficial de convocação.

Designer: Thiago Sherer/Mídia Ninja
Nos palcos, também predominou, entre os artistas, a escolha por cores neutras ou por composições com verde e amarelo, sem uma exortação explícita à bandeira. Observamos, ainda, na estética das manifestações — mesmo com o predomínio da cor vermelha nas imagens aéreas da multidão — a presença quase solitária de bandeiras de partidos de esquerda ou de sindicatos. Isso denota um entendimento que parece ter amadurecido desde as grandes mobilizações progressistas do século XXI no país: a presença majoritária da população contra a anistia e a blindagem de congressistas carrega uma multirreferencialidade de grupos manifestos que conformam aquilo que chamamos de campo progressista no Brasil.
Uma manifestação que acolhe essa multirreferencialidade abre caminho para a presença de grupos conservadores de centro e até mesmo de uma centro-direita democrática, que não endossa pautas antipovo em benefício de uma parcela tão restrita da população, como aquelas favorecidas pela chamada PEC da dosimetria. Como temos visto no desdobramento da anistia travestida de dose homeopática, trata-se de um Congresso que vem beneficiando grupos criminosos organizados.
Em contraste com a perda vertiginosa de fôlego popular, figuras da extrema direita insistem em performances baseadas no deboche e na violência simbólica — estratégias que já não produzem o mesmo fascínio desde a tentativa de ruptura democrática, cujo ápice foi o 8 de janeiro de 2023. Soma-se a isso a continuidade golpista expressa na defesa de pautas lesa-pátria, como sanções internacionais e até a defesa de uma intervenção militar estrangeira, a exemplo do que acompanhamos, atônitos, no caso da Venezuela. Torna-se evidente o posicionamento da sociedade brasileira de não aceitar esse ponto de ruptura dos direitos. Somos a maioria.
Surge, assim, uma nova figura de disputa que nos impõe uma tarefa coletiva: mais do que empatar golpes, como fomos obrigados a fazer durante anos, é hora de avançar sobre essa força virulenta de deputados no Congresso. Uma geração formada no caldo pseudoativista dos culture jammings, popularizados como “pegadinhas” em programas de TV brasileiros e norte-americanos. Em nosso campo, ninguém aguenta mais essa performance do grito, da intimidação, da lei do mais forte, da ação noturna, da prova de resistência. Estamos fartos. Não vale mais a pena pagar para ver quem vai ganhar milhões no Big Brother. Queremos ver gente brilhar — não uma minoria cintilar num desfile vazio de ódio, encenando revanchismo barato.
O vocabulário deles se esgotou. Apenas um Congresso fragilizado sustenta a insistência na imoralidade e na quebra constitucional que passaram a ser referência cotidiana de um grupo que perdeu completamente o vínculo com a realidade social.
Nos atos convocados pela sociedade civil, observamos outro tom. Diante de tanta virulência e caos, artistas chamam à sobriedade, distantes da performance do grito, da vociferação e da gratuidade. Estamos em vigília. Quando parece que tudo já foi dito, resta-nos a ofensiva poética da presença, partilhando a revolta por meio da música.
Quando a música entra no protesto, não há esvaziamento político. Há outra forma de politização. Uma linguagem que comunica pelo afeto, pelo ritmo, pela presença. Que cria brechas para quem nunca pisaria num ato tradicional, mas se reconhece numa canção, numa performance, numa estética.
A radicalidade cultural não é sempre confortável. Às vezes acolhe, às vezes incomoda. E precisa ser assim. A função da arte na política nunca foi apenas confirmar consensos, mas tensionar o óbvio, deslocar sentidos e criar novas perguntas.
Entramos em um novo ciclo político em que o enfrentamento institucional não basta. A disputa se dá também no campo simbólico, estético e sensível. A pergunta não é se a política deve dialogar com a arte — isso já está dado. A pergunta é: com quais estéticas estamos dispostos a dialogar? E quanta indisciplina estamos dispostos a aceitar para ganhar potência coletiva?
Talvez o desafio do tempo presente seja ampliar o repertório da luta. Permitir que múltiplas linguagens coexistam, se choquem e se contaminem. Porque, se o imaginário da rebeldia está em disputa, não haverá transformação sem beleza — nem beleza sem risco, incômodo e tensão.
É nesse terreno instável que vamos decidir como entrar no próximo ciclo político: protegendo formas conhecidas ou apaixonados pela possibilidade de reinventar, mais uma vez, a forma de lutar.
Que venha o 8 de janeiro da democracia — com uma estética que provoque os sentidos, atravesse imaginários e consolide a retomada das ruas como espaço vivo da luta por direitos.